Gilson Feijão[1]
Irmãos e irmãs,
Enfim chegou nosso
segundo resumo do documento de estudos 104 da CNBB. Neste texto estudaremos o
segundo capítulo do referido documento. Vamos continuar aproveitando a
oportunidade que nos é dada de ficar por dentro das reflexões de nossos bispos
sobre nossa realidade paroquial. Hoje faremos uma viagem histórica passando
pelos concílios até nossos dias. Boa leitura a todos.
SEGUNDO
CAPÍTULO: “Perspectiva Teológica”.
Para
começar, o documento nos indica que tudo o que
compreendemos acerca do “ser comunidade”, provém daquilo que os apóstolos
assimilaram dos ensinamentos de Jesus. Esses mesmos ensinamentos foram
atravessando os séculos e chegaram até nós. O principal deles, e que está na
base da comunidade apostólica é a “comunhão”,
pois Jesus inicia seu trabalho, convidando os discípulos a viverem COM Ele.
Assim, todo aprendizado que se vai ter do mestre, decorre desta comunhão contínua
e diária com sua pessoa que nos leva a comunhão também com outras pessoas,
formando assim a chamada comunidade e“Sem
comunidade, não há como viver autenticamente a experiência cristã” [1].
O grande desafio agora é como concretizar
essa comunidade, como conviver com pessoas diferentes de nós? Como aceitar as
limitações uns dos outros? Como enfim, seguir um mestre tão despojado,
totalmente entregue à causa do reino diante de uma sociedade que tem tanto a
oferecer?
Também os primeiros cristãos, ainda na era
apostólica, se fizeram talvez, estas mesmas interrogações e foi a partir daí
que se começou a pensar as estruturas das comunidades, ou seja, os métodos, o
modo como vivenciar essa comunhão desejada, sonhada, ensinada e testemunhada
por Jesus.
Segundo o documento, “Na
Bíblia grega, aparecem três palavras ligadas à noção de paróquia: o substantivo
paroikía, significando“estrangeiro”, “migrante”, o verbo paroikein,
designando“viver junto a, habitar nas proximidades”, “viver em casa alheia” (cf.
Rt 2,1ss) ou “em peregrinação” e a palavra paroikós,usada tanto como
substantivo quanto adjetivo. O substantivo paroikía pode ser traduzido por
morada, habitação em pátria estrangeira. O adjetivo paroikós equivale
avizinho, próximo, que habita junto”[2].
Porém, inicialmente os cristãos
optaram pela chamada “Domus Ecclesiae”, ou
seja, a “Igreja Doméstica”. A
comunidade, neste tempo, se reúne nas casa, lá há a escuta da palavra, a
partilha do pão e a prática da caridade ensinada por Jesus. A comunidade então,
acontece a partir da vivencia familiar e daqui emanam todos os valores para a
convivência em sociedade. A sociedade caminha, portanto, sob uma cultura
familiar de onde emanam todos os seus valores.
O surgimento das
paróquias acontece a partir do crescimento urbano e do número de cristãos. A
Domus Ecclesiae ficou abalada e as assembleias passaram a ser cada vez mais
anônimas, pois na estrutura doméstica, era possível conhecer-se mutuamente,
porém com a nova realidade a relação Igreja/Casa é enfraquecida e é aí que surgem
as paróquias territoriais. O que vai identificar a comunidade a partir de agora
não é mais o povo reunido, mas simplesmente a Igreja (prédio) paroquial.
No século IV as
comunidades urbanas continuam crescendo e Vê-se a necessidade de descentralização.
O bispo já não é mais capaz de presidir o rebanho, pois este se tornou muito
grande. Nesse momento há a criação das dioceses, ou seja, o bispo descentraliza
seu clero dando título de vigário (que
significa “aquele que faz as vezes do bispo”) a vários presbíteros e cada
um conduz uma parcela do rebanho em comunhão com o bispo.
As paróquias surgiram,
portanto, da expansão missionária da igreja e da impossibilidade do bispo e seu
presbitério atenderem os povoados mais distantes, assim as paróquias que surgem
neste tempo, são paróquias rurais mas que logo se estenderam pelas cidades
devido o crescimento populacional.
No concílio de Trento
surgem algumas novidades. Esse concílio determina que o pároco (pastor da
paróquia) resida na paróquia, institui também os seminários, para a formação do
clero e estabelece o critério da territorialidade e foi justamente esse modelo
de Trento que chegou a nossos dias. A partir de então a paróquia já não se
ocupa tanto com a vida comunitária, pregação ou testemunho, mas, simplesmente
com a celebração da liturgia.
Já o concílio Vaticano II não nos deu um
documento que fale especificamente da Paróquia, contudo há a citação do termo
“Igreja Particular”. O concílio parte do princípio eucarístico insiste na
Igreja reunida em assembleia eucarística.
A paróquia, porém, não é a
Igreja Particular no sentido estrito, pois ela está em rede com as demais
paróquias que formam a diocese, que é a Igreja Particular. Para o
ConcílioVaticano II, portanto, a paróquia só pode ser compreendida a partir da
Diocese. Em termos eclesiológicos, pode-sedizer que ela é uma “célula da
diocese”.(CNBB –
Comunidade de Comunidades: Uma Nova Paróquia nº 57).
A paróquia aqui, portanto
passa a ser reapresentada como uma “célula” da diocese e é formada por uma rede
de comunidades, ou seja, ela nada mais é do que uma “comunidade de
comunidades”.
Portanto, como vimos a reflexão de nossos
bispos, sempre aponta para a comunhão de pessoas, ou seja, a realidade
paroquial deve se dar ao redor da casa e se local de acolhimento para todos, ao
mesmo tempo é chamada a ser uma comunidade missionária que via ao encontro
dessas pessoas que são por ela chamadas a viver essa comunhão. A igreja particular
deve ser assim, o sacramento da comunhão, o sinal da comunhão aprendida do
próprio Cristo.
Mande sua opinião ou sugestão, comente,
compartilhe estudo com seus irmãos. Abraço a todos.

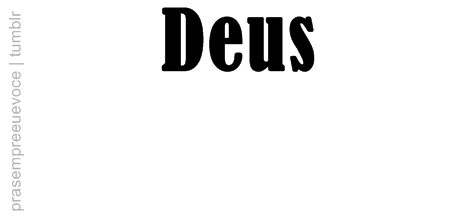
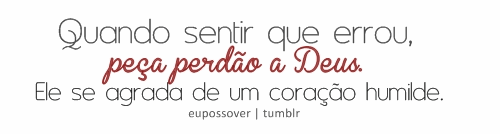
Nenhum comentário:
Postar um comentário